
Oh, who could have foretold
That the heart grows old
Yeats
That the heart grows old
Yeats
Acabada de chegar dos céus grisalhos de Londres já passava da meia-noite. O dia tinha sido amargo, um suplício. Vinha esgotada, derreada, devastada, como quem anda em chão lamacento. Mas não é só no corpo que tudo magoa e a febre arde. Sente-se rasgada, horrivelmente agoniada, corpo em risco de desabar, já sem espírito para continuar. Sabe que o mundo é mais forte do que ela e que tem poucas forças para resistir ao seu poder. Que é frágil como um grão de neve. Quando uma furtiva lágrima desliza no seu rosto percebe que está deprimida. Com a idade, ganha horror aos hipnóticos, opta por uma taça de vinho branco. Desprende os cabelos e deita-se nua nuns lençóis desalinhados carregando às costas uma vasta solidão de eremita, sem vontade sequer de ir ver o que a Mila, uma ucraniana, pálida como uma figura do período azul de Picasso, diáspora de cansaço e sacrifício, que como muitas outras chegam amortalhadas de miséria, lhe deixou para cear. Decide fazer dieta. Soma-lhe três cafés. Sintoniza a Antena 2, tentando fixar a atenção na voz de Cecilia Bartoli numa ária de concerto de Mozart – Ch’io mi scordi di te?...Non temer amato bene. O que ouve inquieta-a ainda mais. Muda de antena, adormece. Acorda poucos minutos depois, com um ferro no coração e o corpo tão encarquilhado como a mente. Levanta-se, dirige-se ao frigorífico. Come doces de laranja à colherada, como quem pede socorro. Não tem força anímica para mais nada, mas sabe que, a meio da noite, se levanta como um fantasma e atira-se à torta de chocolate avianense. A segregação das noites mói, enraivece-a, escalavra-lhe corpo e os sentidos. A vidinha que o Alexandre O’Neill odiava, encaroçada de mágoa. Mas não consegue sair dela: está cercada pela rotina do cansaço, pelo comodismo da letargia, pela dependência da melancolia, contrariando o que sentia outrora, a coragem como farol contra o nevoeiro.
Na companhia aérea sente-se esvaziada naquele espaço claustrofóbico. Debate-se de forma simplória a crise de todos, a penúria e a autópsia da transportadora, os salários milionários dos pilotos e o malfadado PEC, reportório estafado e ela matuta na sua própria carência, na brevidade da vida e na crise actual do silêncio. Tudo o que ali se discute é óbvio, e ninguém se interroga que na empresa, como no país, somos todos reféns daquilo a que Max Weber chamava “a gaiola de ferro da burocratização”, a manipulação estatística que vai apertando pelas tenazes de burocratas, gestores e economistas. Esquecem-se que “Quand un peuple a de bonnes moeurs, les lois deviennent simples”, como dizia Montesquieu. Quando intervém, em reuniões que a Direcção soberba na sua superioridade moral insiste em promover como uma liturgia, ouve a sua voz como se fosse a de outra mulher. Tem consciência que repete frases feitas, que lhe soam a falsete de travesti, a boutades amargas, a meias-tintas. Sabe que não põe convicção, nem veemência, nem rigor no que diz. Tem horror aquele léxico oco. Salienta que a aristocracia de uma profissão exprime-se igualmente pela cultura, como tão bem frisou João Lobo Antunes, e é isso que ali falta, universo de gente inculta e ignorante, “le triomphe de la médiocrité”. Para ela deviam colocar os olhos em terras de Sua Majestade onde o princípio que predomina é basicamente “The most for the most, and not everyting for a few”. E fica perplexa que, no fim, as colegas mais novas, magras como cães vadios, consultando o seu espelhinho de bolso, lingerie preta, batons vermelhos e saltos de agulha, venham saudar pelo que disse. Gente que associa Schostakvich ou Mara Zampieri a marcas de shampoo. Parece-lhe que isso é sintoma de declínio, coeficientes de inteligência abaixo de zero, criaturas que frequentam universidades de vão de escada e participam sem questionar numa viagem sem bússola, mas pasma-se com grande entusiasmo e uma inesgotável joie de vivre. Profissionais de uma cultura machista, onde os homens se designam de comissários e elas de assistentes. E ambos os sexos tão só o mesmo tea or coffee.
Parece que Aristóteles terá dito que o único poder que os deuses não possuem é o de apagar o passado. Não admira pois que ela simples mortal o não consiga. Casou duas vezes e viveu uma relação breve. Uma mulher sem família é como uma cadela sem dono, é caminhar sobre uma estrada repleta de vidros partidos, terá lido algures. Cada casamento durou uma eternidade, a última união tão só alguns meses. O primeiro casamento terminou devido às traições dele. Engenheiro físico escocês que conheceu no Estrela Hall quando puxava de um belo charuto, circuncisava-lhe a ponta e arrancava demoradas fumaças de prazer, empenhado à altura pelo estremecer da vida, sensibilidade em carne viva e que lhe tinha confidenciado que para além dela lhe bastava a música de Schumann, uma mente como uma lâmina, corria do laboratório para a universidade, da universidade para a o laboratório. Regressava a casa a horas mortas, ou não voltava. Apesar de feminista e cúmplice das Três Marias, a justificação que absolvia os atrasos dela não podia desculpar a inexaurível indisponibilidade dele. Discutiam e o diapasão anímico das enormes troikas subia na contagem dos megahertz emocionais. Passaram anos em tempestades, num tormento onde actuavam acusações, reacusações, ofensas, farpas palermas, coléricos quando contraditos e uma sexualidade enrugada como pétalas de rosa em páginas de livros que o trânsito do tempo empalideceu. Num seminário de Verão em Salzburgo o engenheiro físico apaixona-se por uma engenheira química australiana e pela raça puríssima dos seus traços e foram fazer experiências físico-químicas para o outro lado do oceano. Alguns anos depois, casou com um astucioso professor de economia politica mas que exprimia sentimentos de indizível delicadeza, conheceu-o num encontro fortuito nas arcadas vazias de uma grande cidade italiana. A conversa levou-os às águas doces que, na Sicília, brotam dentro do salgado mar. E as manhãs ficavam com outra luz. Um segundo encontro, já em terras lusas, sucedeu num dia de Outono, no alto de uma falésia da Arrábida, a olhar o mar dourado, insubmisso a qualquer paleta. Desta vez a conversa foi longa, menos recatada, um diálogo suculento que provocou o matrimónio poucos meses depois. Um conforto burguês que findou em enfado, em permanentes ladainhas de costumes. Afinal tão só uma cançoneta melancólica, talvez sedutora, vazia, no fundo uma fácil exibição vaidosa da debilidade masculina. Nada acontecia de estimulante. Passavam os fins-de-semana enrolados no sofá, náufragos, sem paixão e sem disfarce. Durante aquelas horas, as palavras do outro eram já sabidas antes de ser ditas, frases já acumuladas como pó no fundo das gavetas, num tédio quase monástico. Um domingo ao entardecer, ele, com a sua face façanhuda, disse-lhe: "Não há açúcar que polvilhe a nossa relação!". Quando ela chegou no dia seguinte a casa estava vazia, desarrumada, ele tinha alugado um quarto forrado de um papel ridículo perto do jardim das Amoreiras. Neste caso e como escreveu António José Saraiva (…) as flores e a Primavera não secaram, os rios continuaram a correr e os pássaros a cantar (…). Telefonam-se quando imprescindível e o que dizem têm o mesmo desinteresse, a mesma sensaboria do que falavam quando viviam juntos. Da última relação – a mais profunda e a mais curta, o canto do cisme soou cedo – há a assinalar as nódoas negras, as cicatrizes que ficaram no consciência e o facto de que pela primeira vez na sua vida se ter visto autorizada a sentir (parafraseando a Traviata de Verdi) o gáudio de ser amada, amando. Finalmente o amor a sério, pensava com um entusiasmo quase infantil, um bálsamo nas feridas antigas. Um jovem poeta natural de Praga, ar vadio, pouco dinheiro, dador de poesia e esplendorosa juventude, mãos quentes, recem saído da Charles University e leitor de checo na universidade nova de Lisboa. Muito mais novo, não aguentou os olhares curiosos e maldizentes dos restantes. Não é fácil para uma mulher madura largar tudo por uma fantasia, pela indizível magia de noites intensas, por um perfume de um homem invulgar, sentir-se atraída por um escritor sem malícia de 23 anos chamado Rainer; é um pecado mortal, tabu universal a mulher ser mais velha que o homem. O jovem talento que lhe soletrava Joyce ao ouvido e os seus lábios lhe abrasavam o rosto, bastava que ele a segurasse pelas ancas para começar o incêndio, num autêntico terreno metafísico, foi para uma residência artística em Nova Iorque, o umbigo do mundo, situada nas franjas de Harlém, e por lá deve permanecer. A tragédia grega ensina que “o amor não deve atingir a própria medula da alma”. Na sua vida a medula da alma foi atingida uma vez pelo amor e resiste mal à ausência e os sonhos acumularam-se nas rugas. Um coração que não sara. Faz-lhe tanta falta aquele amor. Um tempo vivido devagar – e foi tão breve.
Tem dois filhos do primeiro casamento, que vivem longe. Sentiu-os crescer dentro dela como intrusos, prodigiosa contradição, para quem amar os seus é tão natural como respirar. Só um político como o príncipe Metternich pode afirmar “L’ erreur n’a jamais approché de mon esprit”. Dois jovens adultos, duas vidas a velocidades diferentes, criados com mais livros do que carrinhos. A sua educação assemelhava-se a um jardim inglês, multicolor, imprevisível, mas acolhedor, uma mãe sempre presente, embora nem sempre próxima. Um, geólogo, inteligência brilhante, desatento e carinhoso, extraordinária doçura no olhar, mas ao mesmo tempo de reserva e timidez, está a fazer o doutoramento no Massachusetts Institute of Technology e partilha um apartamento com uma cantora de blues. O mais novo, conservador de museus, estagiário no museu de arte contemporânea da universidade de São Paulo, estóico e epicurista, travo diferente, mas a sua crítica tranchante, não se intimidando com o dogmatismo, exprimindo sotto voce, o julgamento em que punha sempre o peso das ideias, descoincidentes, vive com um arquitecto de interiores japonês. O geólogo envia mensagens diariamente, o outro de quando em vez. Visita-os quando pode. Interessa-se mais pelo que eles investigam, recusa até longos salmos de confidências, receio de saber mais, reconhece-se paradoxalmente na personagem de Merly Streep em Angels in América: a actriz é Hannah Porter Pitt, a mãe de Joseph. Quando o filho lhe revela a sua homossexualidade esta recusa saber. Tenta perceber aonde falhou e procura sentir-se útil para em troca sentir amor, que há tanto deixara de receber. Prefere falar de estilos artísticos e de ciência com os filhos. A arte fascina-a, porque é para pensar, entende bem aquele mundo de sombras e ecos. Gosta de penetrar no segredo de um pintor ou escultor. Não sabe como se pinta ou se esculpe daquela maneira e por isso acha admirável. Gosta de se deixar inundar pela proposta. Procura fugir da análise psicanalítica, das exegeses excêntricas que puxam pelos cabelos; tenta apenas soltar o olhar, deixá-lo voar. Se vai a exposições, embrenha-se como em textos escritos em línguas clássicas. Há naquele ambiente qualquer coisa que a magnetiza. Talvez uma carga erótica, uma liberdade desconhecida, um beijo naqueles recortes de grande intensidade. Certas coisas que só a arte pode dizer e o resto é silêncio.
Quando se entretém a vasculhar a intimidade da memória, lembra que quando frequentava a faculdade de letras, era tão feliz e não sabia, gostava de ir pelas ruas acompanhada pelas suas sombras, ruas nas margens da cidade, ruas desertas entre colinas desfeitas, pensando no que lia e lia muito, a sua leitura era hedonista, em esgotante poligamia: para além da cultura clássica, mergulhava na antropologia visual, na arqueologia, na estética, na ética, na história cultural e das mentalidades e até no ramo das neurociências, a neurologia da arte. Invejava todo o saber e Apolo era o seu Deus, porque o era da poesia e a descoberta da poesia é o privilégio que os deuses concedem a alguns. O livro o seu trivial pursuit. Como no poema perfeito, cada palavra é insubstituível. Alimentava-se de filósofos, teóricos, ensaístas, artistas, extasiava-se com a precisão da língua e de nacos de prosa do Eça, e desde os seus arrogantes treze anos que estava enamorada do Heathcliff de Wuthering Heights, obra que lera sempre com igual deleite e um migraleve na última página – e nunca se cansou de dedilhar aquelas folhas. Aquilo sim era musculação da vida. Outro tempo, outras maquilhagens. Andou muito tempo atraída pela cultura grega. Leu e releu os poemas homéricos. Interrompeu ao fim de três anos o curso de línguas e literaturas clássicas para concorrer a assistente de bordo e a literatura hibernou, a não ser livros de bolso, prontos a comer, short stories cómicas e burlescas que lê aos golinhos ou Elles e Marie Claires emprestadas, como se tudo o resto estivesse contemplado no Index Librorum Prohibitorum. Se pensa nisso, sente culpa e remorsos. Se medita nos textos organizados e traduzidos pela Professora Maria Helena da Rocha Pereira, enorme arquivo de sabedoria, sente uma colossal tristeza por ter trocado a licenciatura, para ir servir tea or coffee, uma ilusória carreira de glamour e quarentena intelectual, falso métier de todas as vaidades, que perdeu cedo a graça. Há tempos, recomeçou a ler. Uma chefe de cabine uruguaia deu-lhe a conhecer novas leituras. O livro de uma escritora do seu país, Andrea Blanqué, que conta a história de uma mulher só, "A Passageira". Leu esse romance em que se fala de uma mulher com a idade dela: a história de alguém desprotegido prestes a afogar-se no mar da mediocridade. Quando o romance começa, encontra-se uma personagem feminina que tem 37 anos, é divorciada e cria os seus dois filhos sozinha, porque o seu marido emigrou para Israel. Não é um romance crepuscular e muito menos o volume III dos Essais de Montaigne, o mais perfeito, mas habitam personagens que irrompem pela sua vida adentro – um pouco como fantasmas num filme em branco de João César Monteiro.
Mais uma furtiva lágrima. A dor é um farol sem ninguém de vigília, um beco sem saída. Põe um CD de vozes negras que gemem coisas como When I Am Laid In Earth, melodia puxada para a cobrir com um manto de um belo poema. A noite cai e com ela a fragilidade do ser.
Assusta-se de pensar que as noites são iguais e que vai ter que as atravessar, uma a uma, sozinha, tal Ana Karenina, Madame Bovary, Mrs Dalloway. Vêm-lhe à memória Álvaro de Campos ao confessar que a sua alma é um buraco negro de inenarrável energia que nunca chegará a explodir, que permanecerá para sempre contido, simplesmente porque nada parece valer a pena. Sentindo-se como uma velha senhora com gota à Dostoievsky, não resiste e acaba por tomar o sedativo acompanhado de um pequeno espumante. O tranquilizante não lhe deu a password para aceder ao mundo paradisíaco, mas aferrolhou a cancela que dá para o inferno de Bosch.
O dia nasce obsceno, novamente tea or coffee, e engastada em ternura contorna as lágrimas mentais e esboça o seu melhor sorriso a um conjunto de crianças de uma aldeia do Norte que fazem a sua primeira viagem de avião, cheias de sonhos brilhantes e que ainda acreditam no horizonte longínquo, em que a eternidade se renova, tal como ela em menina quando ouvia fascinada Over the Rainbow e lhe bastava uma lua de papel…
Luís Galego
Ver imagem aqui (Picasso, Femme en Blanc)
Na companhia aérea sente-se esvaziada naquele espaço claustrofóbico. Debate-se de forma simplória a crise de todos, a penúria e a autópsia da transportadora, os salários milionários dos pilotos e o malfadado PEC, reportório estafado e ela matuta na sua própria carência, na brevidade da vida e na crise actual do silêncio. Tudo o que ali se discute é óbvio, e ninguém se interroga que na empresa, como no país, somos todos reféns daquilo a que Max Weber chamava “a gaiola de ferro da burocratização”, a manipulação estatística que vai apertando pelas tenazes de burocratas, gestores e economistas. Esquecem-se que “Quand un peuple a de bonnes moeurs, les lois deviennent simples”, como dizia Montesquieu. Quando intervém, em reuniões que a Direcção soberba na sua superioridade moral insiste em promover como uma liturgia, ouve a sua voz como se fosse a de outra mulher. Tem consciência que repete frases feitas, que lhe soam a falsete de travesti, a boutades amargas, a meias-tintas. Sabe que não põe convicção, nem veemência, nem rigor no que diz. Tem horror aquele léxico oco. Salienta que a aristocracia de uma profissão exprime-se igualmente pela cultura, como tão bem frisou João Lobo Antunes, e é isso que ali falta, universo de gente inculta e ignorante, “le triomphe de la médiocrité”. Para ela deviam colocar os olhos em terras de Sua Majestade onde o princípio que predomina é basicamente “The most for the most, and not everyting for a few”. E fica perplexa que, no fim, as colegas mais novas, magras como cães vadios, consultando o seu espelhinho de bolso, lingerie preta, batons vermelhos e saltos de agulha, venham saudar pelo que disse. Gente que associa Schostakvich ou Mara Zampieri a marcas de shampoo. Parece-lhe que isso é sintoma de declínio, coeficientes de inteligência abaixo de zero, criaturas que frequentam universidades de vão de escada e participam sem questionar numa viagem sem bússola, mas pasma-se com grande entusiasmo e uma inesgotável joie de vivre. Profissionais de uma cultura machista, onde os homens se designam de comissários e elas de assistentes. E ambos os sexos tão só o mesmo tea or coffee.
Parece que Aristóteles terá dito que o único poder que os deuses não possuem é o de apagar o passado. Não admira pois que ela simples mortal o não consiga. Casou duas vezes e viveu uma relação breve. Uma mulher sem família é como uma cadela sem dono, é caminhar sobre uma estrada repleta de vidros partidos, terá lido algures. Cada casamento durou uma eternidade, a última união tão só alguns meses. O primeiro casamento terminou devido às traições dele. Engenheiro físico escocês que conheceu no Estrela Hall quando puxava de um belo charuto, circuncisava-lhe a ponta e arrancava demoradas fumaças de prazer, empenhado à altura pelo estremecer da vida, sensibilidade em carne viva e que lhe tinha confidenciado que para além dela lhe bastava a música de Schumann, uma mente como uma lâmina, corria do laboratório para a universidade, da universidade para a o laboratório. Regressava a casa a horas mortas, ou não voltava. Apesar de feminista e cúmplice das Três Marias, a justificação que absolvia os atrasos dela não podia desculpar a inexaurível indisponibilidade dele. Discutiam e o diapasão anímico das enormes troikas subia na contagem dos megahertz emocionais. Passaram anos em tempestades, num tormento onde actuavam acusações, reacusações, ofensas, farpas palermas, coléricos quando contraditos e uma sexualidade enrugada como pétalas de rosa em páginas de livros que o trânsito do tempo empalideceu. Num seminário de Verão em Salzburgo o engenheiro físico apaixona-se por uma engenheira química australiana e pela raça puríssima dos seus traços e foram fazer experiências físico-químicas para o outro lado do oceano. Alguns anos depois, casou com um astucioso professor de economia politica mas que exprimia sentimentos de indizível delicadeza, conheceu-o num encontro fortuito nas arcadas vazias de uma grande cidade italiana. A conversa levou-os às águas doces que, na Sicília, brotam dentro do salgado mar. E as manhãs ficavam com outra luz. Um segundo encontro, já em terras lusas, sucedeu num dia de Outono, no alto de uma falésia da Arrábida, a olhar o mar dourado, insubmisso a qualquer paleta. Desta vez a conversa foi longa, menos recatada, um diálogo suculento que provocou o matrimónio poucos meses depois. Um conforto burguês que findou em enfado, em permanentes ladainhas de costumes. Afinal tão só uma cançoneta melancólica, talvez sedutora, vazia, no fundo uma fácil exibição vaidosa da debilidade masculina. Nada acontecia de estimulante. Passavam os fins-de-semana enrolados no sofá, náufragos, sem paixão e sem disfarce. Durante aquelas horas, as palavras do outro eram já sabidas antes de ser ditas, frases já acumuladas como pó no fundo das gavetas, num tédio quase monástico. Um domingo ao entardecer, ele, com a sua face façanhuda, disse-lhe: "Não há açúcar que polvilhe a nossa relação!". Quando ela chegou no dia seguinte a casa estava vazia, desarrumada, ele tinha alugado um quarto forrado de um papel ridículo perto do jardim das Amoreiras. Neste caso e como escreveu António José Saraiva (…) as flores e a Primavera não secaram, os rios continuaram a correr e os pássaros a cantar (…). Telefonam-se quando imprescindível e o que dizem têm o mesmo desinteresse, a mesma sensaboria do que falavam quando viviam juntos. Da última relação – a mais profunda e a mais curta, o canto do cisme soou cedo – há a assinalar as nódoas negras, as cicatrizes que ficaram no consciência e o facto de que pela primeira vez na sua vida se ter visto autorizada a sentir (parafraseando a Traviata de Verdi) o gáudio de ser amada, amando. Finalmente o amor a sério, pensava com um entusiasmo quase infantil, um bálsamo nas feridas antigas. Um jovem poeta natural de Praga, ar vadio, pouco dinheiro, dador de poesia e esplendorosa juventude, mãos quentes, recem saído da Charles University e leitor de checo na universidade nova de Lisboa. Muito mais novo, não aguentou os olhares curiosos e maldizentes dos restantes. Não é fácil para uma mulher madura largar tudo por uma fantasia, pela indizível magia de noites intensas, por um perfume de um homem invulgar, sentir-se atraída por um escritor sem malícia de 23 anos chamado Rainer; é um pecado mortal, tabu universal a mulher ser mais velha que o homem. O jovem talento que lhe soletrava Joyce ao ouvido e os seus lábios lhe abrasavam o rosto, bastava que ele a segurasse pelas ancas para começar o incêndio, num autêntico terreno metafísico, foi para uma residência artística em Nova Iorque, o umbigo do mundo, situada nas franjas de Harlém, e por lá deve permanecer. A tragédia grega ensina que “o amor não deve atingir a própria medula da alma”. Na sua vida a medula da alma foi atingida uma vez pelo amor e resiste mal à ausência e os sonhos acumularam-se nas rugas. Um coração que não sara. Faz-lhe tanta falta aquele amor. Um tempo vivido devagar – e foi tão breve.
Tem dois filhos do primeiro casamento, que vivem longe. Sentiu-os crescer dentro dela como intrusos, prodigiosa contradição, para quem amar os seus é tão natural como respirar. Só um político como o príncipe Metternich pode afirmar “L’ erreur n’a jamais approché de mon esprit”. Dois jovens adultos, duas vidas a velocidades diferentes, criados com mais livros do que carrinhos. A sua educação assemelhava-se a um jardim inglês, multicolor, imprevisível, mas acolhedor, uma mãe sempre presente, embora nem sempre próxima. Um, geólogo, inteligência brilhante, desatento e carinhoso, extraordinária doçura no olhar, mas ao mesmo tempo de reserva e timidez, está a fazer o doutoramento no Massachusetts Institute of Technology e partilha um apartamento com uma cantora de blues. O mais novo, conservador de museus, estagiário no museu de arte contemporânea da universidade de São Paulo, estóico e epicurista, travo diferente, mas a sua crítica tranchante, não se intimidando com o dogmatismo, exprimindo sotto voce, o julgamento em que punha sempre o peso das ideias, descoincidentes, vive com um arquitecto de interiores japonês. O geólogo envia mensagens diariamente, o outro de quando em vez. Visita-os quando pode. Interessa-se mais pelo que eles investigam, recusa até longos salmos de confidências, receio de saber mais, reconhece-se paradoxalmente na personagem de Merly Streep em Angels in América: a actriz é Hannah Porter Pitt, a mãe de Joseph. Quando o filho lhe revela a sua homossexualidade esta recusa saber. Tenta perceber aonde falhou e procura sentir-se útil para em troca sentir amor, que há tanto deixara de receber. Prefere falar de estilos artísticos e de ciência com os filhos. A arte fascina-a, porque é para pensar, entende bem aquele mundo de sombras e ecos. Gosta de penetrar no segredo de um pintor ou escultor. Não sabe como se pinta ou se esculpe daquela maneira e por isso acha admirável. Gosta de se deixar inundar pela proposta. Procura fugir da análise psicanalítica, das exegeses excêntricas que puxam pelos cabelos; tenta apenas soltar o olhar, deixá-lo voar. Se vai a exposições, embrenha-se como em textos escritos em línguas clássicas. Há naquele ambiente qualquer coisa que a magnetiza. Talvez uma carga erótica, uma liberdade desconhecida, um beijo naqueles recortes de grande intensidade. Certas coisas que só a arte pode dizer e o resto é silêncio.
Quando se entretém a vasculhar a intimidade da memória, lembra que quando frequentava a faculdade de letras, era tão feliz e não sabia, gostava de ir pelas ruas acompanhada pelas suas sombras, ruas nas margens da cidade, ruas desertas entre colinas desfeitas, pensando no que lia e lia muito, a sua leitura era hedonista, em esgotante poligamia: para além da cultura clássica, mergulhava na antropologia visual, na arqueologia, na estética, na ética, na história cultural e das mentalidades e até no ramo das neurociências, a neurologia da arte. Invejava todo o saber e Apolo era o seu Deus, porque o era da poesia e a descoberta da poesia é o privilégio que os deuses concedem a alguns. O livro o seu trivial pursuit. Como no poema perfeito, cada palavra é insubstituível. Alimentava-se de filósofos, teóricos, ensaístas, artistas, extasiava-se com a precisão da língua e de nacos de prosa do Eça, e desde os seus arrogantes treze anos que estava enamorada do Heathcliff de Wuthering Heights, obra que lera sempre com igual deleite e um migraleve na última página – e nunca se cansou de dedilhar aquelas folhas. Aquilo sim era musculação da vida. Outro tempo, outras maquilhagens. Andou muito tempo atraída pela cultura grega. Leu e releu os poemas homéricos. Interrompeu ao fim de três anos o curso de línguas e literaturas clássicas para concorrer a assistente de bordo e a literatura hibernou, a não ser livros de bolso, prontos a comer, short stories cómicas e burlescas que lê aos golinhos ou Elles e Marie Claires emprestadas, como se tudo o resto estivesse contemplado no Index Librorum Prohibitorum. Se pensa nisso, sente culpa e remorsos. Se medita nos textos organizados e traduzidos pela Professora Maria Helena da Rocha Pereira, enorme arquivo de sabedoria, sente uma colossal tristeza por ter trocado a licenciatura, para ir servir tea or coffee, uma ilusória carreira de glamour e quarentena intelectual, falso métier de todas as vaidades, que perdeu cedo a graça. Há tempos, recomeçou a ler. Uma chefe de cabine uruguaia deu-lhe a conhecer novas leituras. O livro de uma escritora do seu país, Andrea Blanqué, que conta a história de uma mulher só, "A Passageira". Leu esse romance em que se fala de uma mulher com a idade dela: a história de alguém desprotegido prestes a afogar-se no mar da mediocridade. Quando o romance começa, encontra-se uma personagem feminina que tem 37 anos, é divorciada e cria os seus dois filhos sozinha, porque o seu marido emigrou para Israel. Não é um romance crepuscular e muito menos o volume III dos Essais de Montaigne, o mais perfeito, mas habitam personagens que irrompem pela sua vida adentro – um pouco como fantasmas num filme em branco de João César Monteiro.
Mais uma furtiva lágrima. A dor é um farol sem ninguém de vigília, um beco sem saída. Põe um CD de vozes negras que gemem coisas como When I Am Laid In Earth, melodia puxada para a cobrir com um manto de um belo poema. A noite cai e com ela a fragilidade do ser.
Assusta-se de pensar que as noites são iguais e que vai ter que as atravessar, uma a uma, sozinha, tal Ana Karenina, Madame Bovary, Mrs Dalloway. Vêm-lhe à memória Álvaro de Campos ao confessar que a sua alma é um buraco negro de inenarrável energia que nunca chegará a explodir, que permanecerá para sempre contido, simplesmente porque nada parece valer a pena. Sentindo-se como uma velha senhora com gota à Dostoievsky, não resiste e acaba por tomar o sedativo acompanhado de um pequeno espumante. O tranquilizante não lhe deu a password para aceder ao mundo paradisíaco, mas aferrolhou a cancela que dá para o inferno de Bosch.
O dia nasce obsceno, novamente tea or coffee, e engastada em ternura contorna as lágrimas mentais e esboça o seu melhor sorriso a um conjunto de crianças de uma aldeia do Norte que fazem a sua primeira viagem de avião, cheias de sonhos brilhantes e que ainda acreditam no horizonte longínquo, em que a eternidade se renova, tal como ela em menina quando ouvia fascinada Over the Rainbow e lhe bastava uma lua de papel…
Luís Galego
Ver imagem aqui (Picasso, Femme en Blanc)









































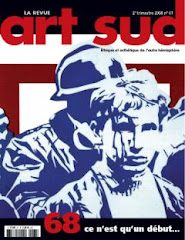













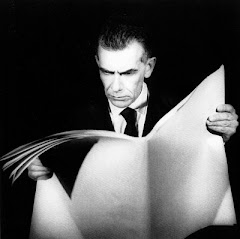
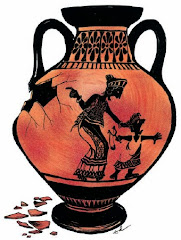








,+Museu+do+Chiado.jpg)













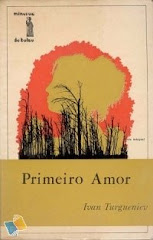





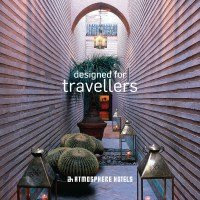











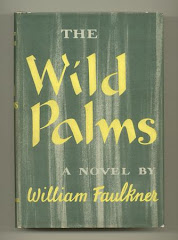
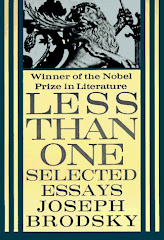



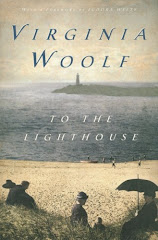
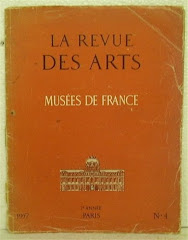


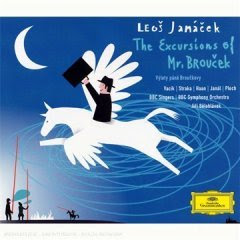






























































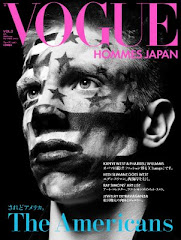




19 comments:
gostei muito...............
bj..
Li, gostei, o resto escrevo no mail
Abr
Luis, a sua escrita é magnifica, fasciante, mas doeu! Eu sou uma mulher sózinha e sem familia fui apanhada na sua rede, pela sua escrita.
Sei que a vida é feita de pontos de eternidade.
Recordações, pequenos nadas, que nos levam a pensar , que quando a medula da alma é atingida uma vez pelo amor, nunca mais se reconstrói.
Estou a atravessar um imenso deserto, não sei sequer se terá fim. Tantas injustiças, que por vezes penso já não ter forças para lutar.Obrigada. Um beijo Eugénia Bettencourt
Como sempre optimo.
Fico à espera do primeiro livro!!!
Chega de brincadeira...vamos começar a sério...
Um abraço
Urubu
GOSTAVA DE TER UMA PALAVRA DIFERENTE DE GOSTEI PARA DAR A MINHA OPINIÃO,
DIREI APENAS"HUMANO ATÉ DOER",YOLANDA
Tal e qual como a vida é; um imenso rendilhado de lágrimas enleadas em sorrisos, de períodos azuis que se fundem com períodos rosas, de multidões que se encontram na solidão, de sonhos vividos acordados, de vidas sonhadas na noite, de amores amargos que beijam a doçura da felicidade.
Metáforas intensas, que me estrangulam a alma e fazem experimentar diferentes emoções, como se cada texto fosse um ano em que cada uma das quatro estações está presente no corpo da minha alma.
Excelente Luís
http://www.youtube.com/watch?v=Lkkpk-UsgLs
Gostei!
Além disso...que é de conteúdo...é muito bem escrito.
Vá em frente...vamos a um livro!!!
Parabéns e obrigado.Abraço!
Caro Dr. Galego, não sabia desta sua faceta de escritor de prosa literária! Fiquei bastante surpreendido pela temática, pela forma de escrever e pela sensibilidade demonstrada na descrição de certas "nuances" emocionais. Os meus parabéns!
Grande abraço!
.....queria ser malmequer
azul
poder estar
como tu
contigo.
e ser malmequer
azul
num meio de um campo de trigo.
priscila
Acabei de o ler, aqui...ainda não o tinha feito. Apeteceu-me muito poder ter um livro seu para abraçar. Toda a sua escrita, Luís, me é referencial...oiço as músicas que vejo citadas e oiço as citações de livros que me foram sempre muito... Palavras com banda sonora.
Repito, quero ter um livro seu para abraçar.
Saudações
LSL
Luís,
As suas insónias acabam por criar textos magníficos. Gostei muito, npo entanto permita-me uma sugestão: (sem qualquer espécie de chamada de atenção) - também gostaria de ler um texto seu sobre "o universo masculino".
Agora também penso que deve começar a escrever um romance, está mesmo no momento ideal...
Antes do mais, muito obrigado pela chamada de atenção para este texto, um belo naco de prosa.
Apesar de ter feito uma primeira leitura muito veloz, chamou-me a atenção o seu tom culturalizante, com as inúmeras referências a livros, filmes, música. É algo de que gosto muito. Ajudam-me a entrar na psique da personagem e despertam-me a curiosidade para partir deste texto para os originais de onde retiraste as citações. Note-se que esta é a singela opinião de um leitor, porque de teoria literária não percebo nada.
Abraço
Manuel Braga Serrano
PS: Espero por mais desenvolvimentos, parece-me que este texto está pendurado, faltando contar muita coisa acerca da personagem
é sempre um prazer ler sua prosa, gostei...
Fatima Leitao
Caro Luís.
Um comentário forçosamente curto para um texto de imensa riqueza que merecia uma análise muito mais aprofundada. Manancial de erudição e sensibilidade, uma bela escrita que apesar de longa agarra o leitor e o obriga a penetrar nesse retrato da vida, a partilhar os sentidos e as emoções, a ir e vir do particular a uma visão do mundo desencantada e poética, numa linguagem moderna, talentosa e de precisão cirúrgica. A reler muitas vezes que a inspiração é um dom dos deuses. Muitos parabéns e um abraço.
Fantástico texto de solidão, caro Luís, muito bem escrito e uma intensa análise psicológica! Tu estás mesmo de parabéns! Para quando um livro?
Quanto a Apolo, tenho-me detido mais no poder de Dioniso, o outro lado da poesia, mais flácida, fluída, que cai e desce ao chão.
Grande abraço
Jorge
Caro Luís,
Sem querer repetir aquilo que já está dito por outros "comentadores", não posso deixar de referir a imensa alegria de ver um homem escrever sobre a "alma feminina". A solidão é sentida pelas mulheres de uma forma mais intensa (não quero estereotipar os sentimentos), e é com imensa satisfação que vejo, aqui, no Infinito Pessoal, um constante desconstruir deste estereótipo. Afinal, os homens sabem o que sentem as mulheres. Eu acredito que todo o universo ficcional tem na sua origem a "vivênvia",o "conhecimento" da realidade ficcionada. Para criar esta personagem é necessário conhecer as mulheres...
Deve ser por isso que por aqui nunca me sinto só, nos meus dias "obscenamente" iguais.
Como todos os outros, espero ter que "pagar" para o ler.
Um abraço.
Sinto pequenina, para comentar tão grandiosos sentires, emoções e vivências...
Adorei ler - senti profundamente!
Parabéns Luís.
Beijinho.
Caro Luís
começam a faltar-me as palavras...
Tanta coisa e tanta coisa importante é dita num texto que longe de ser um amontoado de ideias, é sim um conjunto agregado e lógico de raciocínios, perfeitamente construído; como diz o Manuel Braga Serrano, estão neste texto, múltiplas ideias que a serem trabalhadas ao teu modo, darão pano para mangas...
Aprendi muito
Post a Comment