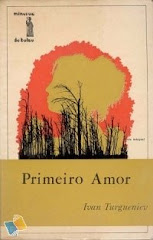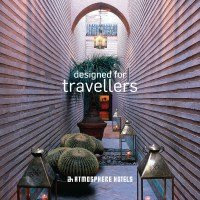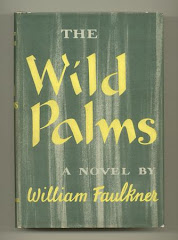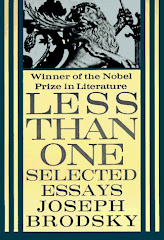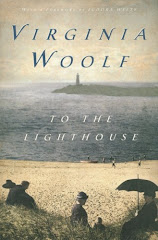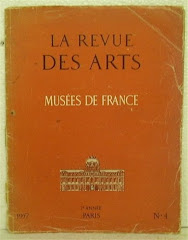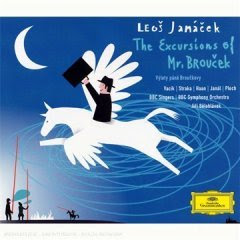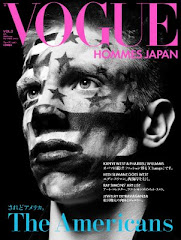Chamar-se-ia Catarina, mas não, é um rapaz, disse-me a L. pelo telefone, estava eu no departamento a terminar uma informação qualquer. Afinal as contas não deram certo, era um rapaz, tinha sido concebido na Rue Saint-Paul, em Paris, ali mesmo ao pé da Bastilha, disso tínhamos a certeza. A cidade das luzes que desfrutámos durante as férias. O que nós corremos por todas aquelas ruas, o que apreciámos no Louvre (descobrimos como entrar de forma mais célere, a dica de um escritor de viagens resultou) e como nos deslumbrámos com outros espaços museológicos bem mais pequenos, mas grandes em interesse, exposições que nos enchiam os dias. Até ao Lido, nos Champs Elysees, fomos, um espectáculo fracote, um 007 e muitas pernas esguias de bailarinas loiras, mas servido de champagne. Falta de Artaud, Ionesco, Moliére, Racine, de bom teatro parisiense, naquele mês de Agosto, cheio de gente. Era o ano da inauguração da Eurodisney. Iria ser um rapaz e porque não? respondi à L., acabada de sair da consulta, logo após a primeira ecografia. Ainda não tinha nascido e já as nossas vidas mudavam e muito, alguém se preparava para entrar em cena. Ia ser João, estava decidido. Fantasiava como seria o nosso filho, imaginava-o, sentia-o meu amigo, de mãos dadas a passear pelas ruas. Estava atentíssimo a todas as grávidas que se cruzavam comigo, sorria para todas as crianças de tenra idade, lia tudo o que me vinha parar à mão sobre Genética e Gravidez, fiquei especialista em Obstetrícia e discípulo de Benjamin Spock. Noite de lua cheia, cientifico ou ficção, levou uma série de grávidas ao hospital naquele dia de Maio de 93. “Luís, prepara-te porque vais ser pai”, acordo confuso, pensei que estava na hora de me preparar para ir trabalhar. Não, não ia, ia ser pai, afinal. Com calma lá fomos para o Garcia de Orta, onde L. era seguida (gravidez de médio risco, tensão arterial). A quantidade de mulheres que chegaram nesse dia ao hospital era tal que foi encaminhada para Lisboa. Havia gente por todo o lado naquela manhã nem quente, nem fria, gente que conversava sobre tudo o que eram maleitas, um bulício imenso de gente suburbana entre o croissant e a consulta. Desde míudo que não consigo sentir o enjoo do éter sem que uma tremura me corra a espinha. Batas brancas e estetocópios, frascos de soro, seringas com sangue, saquinhos de urina e tubos de plástico são uma colecção de abominações. Lá fomos os dois numa ambulância, atravessando a ponte. Do outro lado do Tejo é outro país. O sol faz aparecer Lisboa deitada sobre a renda de pedra dos Jerónimos e da Torre de Belém, feita pelo tempo e a paciência dos séculos. Aliás, éramos quatro os que seguíamos para a capital, um outro casal, também tinha tido o mesmo destino, por falta de camas. Íamos ser pais no mesmo dia, pensava eu, ligeiramente equivocado. De repente na Alfredo da Costa, aquele rapaz e futuro pai, sozinho na sala de espera, é chamado, e dez minutos depois sai e abraça-me, já era pai, um pai aos 18 anos, e não tem tempo para ter 18 anos. Tem de trabalhar de manhã à noite para se sustentar a si mesmo e a uma casa modesta, nos arredores dos subúrbios da Grande Lisboa. Uma vida já muito difícil, uma infância perdida, como me confidenciou ao longo das horas que ali passámos juntos. A sua filha iria chamar-se Renata Sofia (é verdade que me veio à cabeça um estudo da Pais e Filhos, sobre o nomes das crianças e as proveniências culturais). Estranho pai este sem adolescência, mas que, criança teimosa, sorrindo envelhece. A mesma découpage, a mesma mise-en-scène repete-se daí a nada com muitos outros pais, entram e saiem, entram ansiosos, saiem de sorriso nos lábios, lágrimas e, por fim, abraços. Eu continuava à espera, não que pensasse que aquilo era tirar a senha e o bebé saía, mas eram muitas as horas de espera, desde que as águas rebentaram: ou o rapaz se sentia bem e não ansiava experimentar as asperezas da vida ou desejava que eu transpirasse um pouco mais das mãos. E o nervosismo instalava-se. Sim porque a L. estaria calmíssima e feliz naquele estado, apenas cheia de dores (somos tão egoístas, os homens). A maternidade naquele dia parecia a reconstituição de um cenário de guerra. Por que é que os hospitais não têm uma dimensão humana? Por que têm aquela luz? Por que é que não são espaços límpidos, práticos, espaçosos, calmos? Por que são a tradução de derrota dos direitos humanos? Quantas e quantas pessoas vimos desesperadas pela dor e pela solidão nestes campos hospitalares, muitas vezes de horror? Naqueles corredores estranhamente iluminados o tempo escorre como areia grossa numa ampulheta estreita. Na sala de espera, velhas senhoras, futuras avós, relatavam os mais escabrosos casos, autênticos jornais do crime, ali em directo. Uma mulher sai, abraça-se ao companheiro, choram os dois, percebi que tinham perdido o bebé. Só ouvia nomes masculinos a serem chamados, homens que tinham chegado muito depois de mim, e eu à espera de Godot. Melhor ler, ler o que se deixou de ler porque a vida se encheu de outras coisas. Agarrar-me-ia a Yourcenar, As Memórias de Adriano, o mais perfeito, o mais complexo. Tenho-o em livro de bolso, pronto a comer, mas desisti. Dois dias antes tinha sonhado que eu e a L. tínhamos ido de barco ver o nosso filho que tinha acabado de nascer. Estranhos estes sonhos, que atormentam a nossa existência nocturna. Treze horas tinham passado e já de noite naquela sala minúscula e sem graça da maternidade decidi que queria ir para junto da L., embora já convencido de que o João tinha assinado um contrato sem termo dentro da barriga da mãe. Estava arrependido por não termos optado por um privado (Olhe que não, disse o recepcionista de turno, quando os partos correm mal vêm de charola para aqui, porque aqui é mais seguro). Não sei que argumentos apresentei, sei que estava cansado de esperar, que exigi entrar e que entrei branco na enfermaria. A chefe, seca, lacónica, metálica, perguntou se eu queria mesmo assistir ao parto. Olhei para tanta gente de bata e corei, metamorfoseei-me, fiquei vermelho que nem um tomate, nem o melhor realizador de efeitos especiais teria feito melhor, nenhum auto-bronzeador provocaria um resultado tão rápido. Entro, finalmente, na enfermaria, como numa arena, onde várias mulheres, cada uma em sua box, aguardam entre dores os seus rebentos. A L., ao fundo do longo corredor, estava com contracções mas a colocar em acção os exercícios de respiração que auto didacticamente aprendera. Grande mulher, um exemplo. Uma africana desesperada, aproveita o instante em que está sozinha e salta da cama para o meio da enfermaria e entre gritos de dor reclamava que queria ter o bebé de pé. Eu observava incrédulo e um pouco agoniado, confesso, tanto mais porque tinha comido um estranho cozido com o pai da Renata, ali bem perto, num pequeno e duvidoso centro comercial de esquina. Eu que tinha passado à reserva territorial por motivo de estudos universitários encontrava-me agora numa verdadeira guerra civil, mulheres que suavam, enfermeiras que gritavam, obstetras e anestesistas que corriam, epidural que faltava de repente, tudo o que era profissional de saúde a medir dedos de dilatação. O pessoal clínico e auxiliar parecia que estava a enlouquecer sem se aperceber. De repente uma enfermeira que me fez lembrar a bruxa da casa do chocolate perguntou se eu queria mesmo ficar porque ao invés de estar a fazer festas nos cabelos da futura mãe estava com o nariz enfiado no orifício vocacionado para expelir aquele que já tinha a obrigação de estar connosco. A bruxinha virou fada e esteve sempre presente, abraçou-me forte quando o mais belo dos seres nasceu. Com pouca vontade de dar o grito de ipiranga, chorou baixinho, de mansinho, não fosse acordar os outros. Quis nascer sem pressas. Ali estou eu, rodeado de batas brancas (ou seriam azuis?) e de um bébé, o meu filho, e percebo que não me apetece estar em mais nenhum lugar do mundo. Nessa noite sonhei alto, disse-me a minha mãe, chamava pelo meu filho que acabava de nascer. Aconteceu há precisamente 14 anos atrás, pelos 3.10horas, da noite. As amigas foram lá ter, a Céu, a Maria José muito aprumada, com o seu fato azul claro, vinda directamente do estúdio, onde gravava um concurso com o Herman, um dos meus irmãos apareceu de surpresa. As avós sempre presentes, quase sempre as mulheres nestas estradas de afectos. Fotografias impunham-se, até o João e a Renata se juntaram na mesma cama para ilustrarem uma foto que ainda mantenho num pass–partout na cozinha, estranha memória, pois nunca mais vi aquele pai adolescente – em rigor, já nos cruzámos numa qualquer praia da Costa, nem nos falámos e não foi por mal, adoptamos mais facilmente a distância do que o gesto entusiástico, muitas vezes por timidez, por vergonha, talvez por estupidez. Encontrei D. antiga colega (e amiga) de secundário que visitava uma parturiente, vestia de preto. As lágrimas retidas na barragem das pestanas quando falou da morte recente do pai, mas sorriu, um sorriso franco e simpático, quando lhe disse que era pai. A frase foi económica e deixou-me desamparado, sem saber como consolar. De repente, no meio do abraço e da conversa sussurrada, senti-me muito responsável. Era Pai. Não foram em vão, não foram inúteis, foram tão importantes todos aqueles momentos que vieram no tempo certo, no tempo certo do coração. De vez em quando, é preciso vir uma criança para limpar o ambiente, para deitar fora as excrescências que o dia a dia vai depositando. Jamais esquecerei aquelas 17 horas.
Chamar-se-ia Catarina, mas não, é um rapaz, disse-me a L. pelo telefone, estava eu no departamento a terminar uma informação qualquer. Afinal as contas não deram certo, era um rapaz, tinha sido concebido na Rue Saint-Paul, em Paris, ali mesmo ao pé da Bastilha, disso tínhamos a certeza. A cidade das luzes que desfrutámos durante as férias. O que nós corremos por todas aquelas ruas, o que apreciámos no Louvre (descobrimos como entrar de forma mais célere, a dica de um escritor de viagens resultou) e como nos deslumbrámos com outros espaços museológicos bem mais pequenos, mas grandes em interesse, exposições que nos enchiam os dias. Até ao Lido, nos Champs Elysees, fomos, um espectáculo fracote, um 007 e muitas pernas esguias de bailarinas loiras, mas servido de champagne. Falta de Artaud, Ionesco, Moliére, Racine, de bom teatro parisiense, naquele mês de Agosto, cheio de gente. Era o ano da inauguração da Eurodisney. Iria ser um rapaz e porque não? respondi à L., acabada de sair da consulta, logo após a primeira ecografia. Ainda não tinha nascido e já as nossas vidas mudavam e muito, alguém se preparava para entrar em cena. Ia ser João, estava decidido. Fantasiava como seria o nosso filho, imaginava-o, sentia-o meu amigo, de mãos dadas a passear pelas ruas. Estava atentíssimo a todas as grávidas que se cruzavam comigo, sorria para todas as crianças de tenra idade, lia tudo o que me vinha parar à mão sobre Genética e Gravidez, fiquei especialista em Obstetrícia e discípulo de Benjamin Spock. Noite de lua cheia, cientifico ou ficção, levou uma série de grávidas ao hospital naquele dia de Maio de 93. “Luís, prepara-te porque vais ser pai”, acordo confuso, pensei que estava na hora de me preparar para ir trabalhar. Não, não ia, ia ser pai, afinal. Com calma lá fomos para o Garcia de Orta, onde L. era seguida (gravidez de médio risco, tensão arterial). A quantidade de mulheres que chegaram nesse dia ao hospital era tal que foi encaminhada para Lisboa. Havia gente por todo o lado naquela manhã nem quente, nem fria, gente que conversava sobre tudo o que eram maleitas, um bulício imenso de gente suburbana entre o croissant e a consulta. Desde míudo que não consigo sentir o enjoo do éter sem que uma tremura me corra a espinha. Batas brancas e estetocópios, frascos de soro, seringas com sangue, saquinhos de urina e tubos de plástico são uma colecção de abominações. Lá fomos os dois numa ambulância, atravessando a ponte. Do outro lado do Tejo é outro país. O sol faz aparecer Lisboa deitada sobre a renda de pedra dos Jerónimos e da Torre de Belém, feita pelo tempo e a paciência dos séculos. Aliás, éramos quatro os que seguíamos para a capital, um outro casal, também tinha tido o mesmo destino, por falta de camas. Íamos ser pais no mesmo dia, pensava eu, ligeiramente equivocado. De repente na Alfredo da Costa, aquele rapaz e futuro pai, sozinho na sala de espera, é chamado, e dez minutos depois sai e abraça-me, já era pai, um pai aos 18 anos, e não tem tempo para ter 18 anos. Tem de trabalhar de manhã à noite para se sustentar a si mesmo e a uma casa modesta, nos arredores dos subúrbios da Grande Lisboa. Uma vida já muito difícil, uma infância perdida, como me confidenciou ao longo das horas que ali passámos juntos. A sua filha iria chamar-se Renata Sofia (é verdade que me veio à cabeça um estudo da Pais e Filhos, sobre o nomes das crianças e as proveniências culturais). Estranho pai este sem adolescência, mas que, criança teimosa, sorrindo envelhece. A mesma découpage, a mesma mise-en-scène repete-se daí a nada com muitos outros pais, entram e saiem, entram ansiosos, saiem de sorriso nos lábios, lágrimas e, por fim, abraços. Eu continuava à espera, não que pensasse que aquilo era tirar a senha e o bebé saía, mas eram muitas as horas de espera, desde que as águas rebentaram: ou o rapaz se sentia bem e não ansiava experimentar as asperezas da vida ou desejava que eu transpirasse um pouco mais das mãos. E o nervosismo instalava-se. Sim porque a L. estaria calmíssima e feliz naquele estado, apenas cheia de dores (somos tão egoístas, os homens). A maternidade naquele dia parecia a reconstituição de um cenário de guerra. Por que é que os hospitais não têm uma dimensão humana? Por que têm aquela luz? Por que é que não são espaços límpidos, práticos, espaçosos, calmos? Por que são a tradução de derrota dos direitos humanos? Quantas e quantas pessoas vimos desesperadas pela dor e pela solidão nestes campos hospitalares, muitas vezes de horror? Naqueles corredores estranhamente iluminados o tempo escorre como areia grossa numa ampulheta estreita. Na sala de espera, velhas senhoras, futuras avós, relatavam os mais escabrosos casos, autênticos jornais do crime, ali em directo. Uma mulher sai, abraça-se ao companheiro, choram os dois, percebi que tinham perdido o bebé. Só ouvia nomes masculinos a serem chamados, homens que tinham chegado muito depois de mim, e eu à espera de Godot. Melhor ler, ler o que se deixou de ler porque a vida se encheu de outras coisas. Agarrar-me-ia a Yourcenar, As Memórias de Adriano, o mais perfeito, o mais complexo. Tenho-o em livro de bolso, pronto a comer, mas desisti. Dois dias antes tinha sonhado que eu e a L. tínhamos ido de barco ver o nosso filho que tinha acabado de nascer. Estranhos estes sonhos, que atormentam a nossa existência nocturna. Treze horas tinham passado e já de noite naquela sala minúscula e sem graça da maternidade decidi que queria ir para junto da L., embora já convencido de que o João tinha assinado um contrato sem termo dentro da barriga da mãe. Estava arrependido por não termos optado por um privado (Olhe que não, disse o recepcionista de turno, quando os partos correm mal vêm de charola para aqui, porque aqui é mais seguro). Não sei que argumentos apresentei, sei que estava cansado de esperar, que exigi entrar e que entrei branco na enfermaria. A chefe, seca, lacónica, metálica, perguntou se eu queria mesmo assistir ao parto. Olhei para tanta gente de bata e corei, metamorfoseei-me, fiquei vermelho que nem um tomate, nem o melhor realizador de efeitos especiais teria feito melhor, nenhum auto-bronzeador provocaria um resultado tão rápido. Entro, finalmente, na enfermaria, como numa arena, onde várias mulheres, cada uma em sua box, aguardam entre dores os seus rebentos. A L., ao fundo do longo corredor, estava com contracções mas a colocar em acção os exercícios de respiração que auto didacticamente aprendera. Grande mulher, um exemplo. Uma africana desesperada, aproveita o instante em que está sozinha e salta da cama para o meio da enfermaria e entre gritos de dor reclamava que queria ter o bebé de pé. Eu observava incrédulo e um pouco agoniado, confesso, tanto mais porque tinha comido um estranho cozido com o pai da Renata, ali bem perto, num pequeno e duvidoso centro comercial de esquina. Eu que tinha passado à reserva territorial por motivo de estudos universitários encontrava-me agora numa verdadeira guerra civil, mulheres que suavam, enfermeiras que gritavam, obstetras e anestesistas que corriam, epidural que faltava de repente, tudo o que era profissional de saúde a medir dedos de dilatação. O pessoal clínico e auxiliar parecia que estava a enlouquecer sem se aperceber. De repente uma enfermeira que me fez lembrar a bruxa da casa do chocolate perguntou se eu queria mesmo ficar porque ao invés de estar a fazer festas nos cabelos da futura mãe estava com o nariz enfiado no orifício vocacionado para expelir aquele que já tinha a obrigação de estar connosco. A bruxinha virou fada e esteve sempre presente, abraçou-me forte quando o mais belo dos seres nasceu. Com pouca vontade de dar o grito de ipiranga, chorou baixinho, de mansinho, não fosse acordar os outros. Quis nascer sem pressas. Ali estou eu, rodeado de batas brancas (ou seriam azuis?) e de um bébé, o meu filho, e percebo que não me apetece estar em mais nenhum lugar do mundo. Nessa noite sonhei alto, disse-me a minha mãe, chamava pelo meu filho que acabava de nascer. Aconteceu há precisamente 14 anos atrás, pelos 3.10horas, da noite. As amigas foram lá ter, a Céu, a Maria José muito aprumada, com o seu fato azul claro, vinda directamente do estúdio, onde gravava um concurso com o Herman, um dos meus irmãos apareceu de surpresa. As avós sempre presentes, quase sempre as mulheres nestas estradas de afectos. Fotografias impunham-se, até o João e a Renata se juntaram na mesma cama para ilustrarem uma foto que ainda mantenho num pass–partout na cozinha, estranha memória, pois nunca mais vi aquele pai adolescente – em rigor, já nos cruzámos numa qualquer praia da Costa, nem nos falámos e não foi por mal, adoptamos mais facilmente a distância do que o gesto entusiástico, muitas vezes por timidez, por vergonha, talvez por estupidez. Encontrei D. antiga colega (e amiga) de secundário que visitava uma parturiente, vestia de preto. As lágrimas retidas na barragem das pestanas quando falou da morte recente do pai, mas sorriu, um sorriso franco e simpático, quando lhe disse que era pai. A frase foi económica e deixou-me desamparado, sem saber como consolar. De repente, no meio do abraço e da conversa sussurrada, senti-me muito responsável. Era Pai. Não foram em vão, não foram inúteis, foram tão importantes todos aqueles momentos que vieram no tempo certo, no tempo certo do coração. De vez em quando, é preciso vir uma criança para limpar o ambiente, para deitar fora as excrescências que o dia a dia vai depositando. Jamais esquecerei aquelas 17 horas.Todo este arrazoado porque aquele foi e será um dos momentos mais perturbantes da minha vida. Socorrendo-me de Sarah Kane em Crave “(quero) transmitir algum do esmagador, imortal, irrestivel, incondicional, abrangente, preenchedor, desafiante, contínuo e infindável amor que tenho por ti”. Parabéns João, parabéns, hoje no décimo quarto aniversário, idade de todos os contraditórios.










































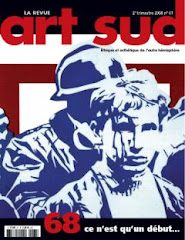













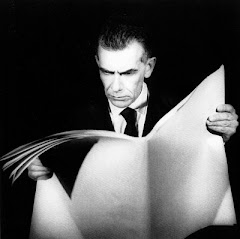
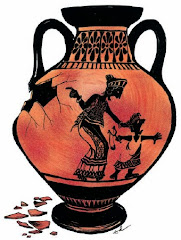








,+Museu+do+Chiado.jpg)